|
Assim
como em todas as savanas tropicais, o fogo tem sido um importante fator
ambiental nos cerrados brasileiros desde há muitos milênios e tem,
portanto, atuado na evolução dos seres vivos desses ecossistemas,
selecionando plantas e animais com características que os protejam das
rápidas queimadas que lá ocorrem. Nas plantas, uma dessas
características que talvez mais nos chame a atenção é a cortiça grossa
das árvores e arbustos (lenhosas), que age como isolante térmico
durante a passagem do fogo. Entretanto, um observador mais atento irá
notar diversas outras respostas da vegetação ao fogo, como a floração
intensa do estrato herbáceo e a rápida rebrota das plantas, dias após a
queima, a abertura sincronizada de frutos e intensa dispersão de suas
sementes, a germinação das sementes de espécies que são estimuladas
pelo fogo. Ainda, o fogo promove todo um processo de reciclagem da
matéria orgânica que, ao ser queimada, transforma-se em cinzas, que se
depositam sobre o solo e, com as chuvas, têm seus elementos químicos
solubilizados e disponibilizados como nutrientes às raízes das plantas.
Sendo
assim, ao contrário do que muitos pensam, o fogo de intensidade baixa
ou moderada não mata a grande maioria das plantas do Cerrado, que são
adaptadas a esse fator ecológico. Pelo contrário, para muitas espécies,
principalmente as herbáceas, o fogo é benéfico e estimula ou facilita
diversas etapas de seu ciclo de vida, como mencionamos acima.
Também
os animais do Cerrado estão adaptados para enfrentar as queimadas:
dentre os vertebrados, muitos se refugiam em tocas ou buracos e ficam
protegidos das altas temperaturas, pois, a poucos centímetros de
profundidade, o solo nem chega a esquentar, devido à rapidez com que o
fogo percorre os cerrados.
Mas por que as savanas – e dentre elas, também os cerrados – pegam fogo?
A
distribuição esparsa das árvores e dos elementos lenhosos, que
caracteriza as savanas, permite a chegada de insolação no nível do solo
e promove o desenvolvimento de farto estrato herbáceo, formando um
“tapete” graminoso. Devido ao seu ciclo de vida, essas gramíneas têm
suas folhas e partes florais dessecadas na época seca – que, na região
dos cerrados, geralmente vai de maio a setembro. Esse material fino e
seco passa a constituir um combustível altamente inflamável. Raios e
também chamas e faíscas provenientes de ações do homem (queima de
restos agrícolas, fogueiras, etc) podem iniciar a combustão da
vegetação e, a partir de então, o fogo se propaga rapidamente.
As
queimadas causadas por raios, ditas “naturais”, geralmente ocorrem em
setembro, sendo esse o mês que marca o início da estação chuvosa na
região dos cerrados. É quando ocorrem chuvas fortes, com muitos raios,
e também quando a biomassa herbácea está no auge do dessecamento, tendo
suas folhas e ramos se transformado em material facilmente inflamável.
As queimadas causadas pelo homem (antropogênicas) geralmente são
acidentais, mas também podem ser intencionais. Em comparação com as
queimadas naturais, as antropogênicas costumam ser antecipadas para
julho ou agosto, pois é quando a maior parte dos agricultores queima os
restos da colheita e prepara suas terras para novos plantios, causando
o “escape” do fogo, ou quando os pecuaristas deliberadamente queimam o
pasto nativo para promover o rebrotamento das gramíneas dessecadas e,
assim, fornecer folhas frescas ao gado nessa época de escassez.
O fogo como instrumento de manejo
Em
épocas remotas, antes do surgimento do homem, as queimadas em ambientes
savânicos eram causadas basicamente por raios. Com o domínio do uso do
fogo e o grande crescimento de suas populações, o homem passou a
aumentar muito a frequência das queimadas nesses ambientes, além de
alterar a época de ocorrência das queimadas naturais.
As
informações disponíveis revelam que o uso do fogo era muito difundido
entre todos os grupos indígenas que habitavam os cerrados. Por meio do
fogo, eles manipulavam o ambiente e se beneficiavam de diversas
maneiras: estimulavam a floração e a frutificação de plantas que lhes
eram úteis, atraíam e caçavam animais que vinham comer a rebrota do
estrato herbáceo, espantavam animais indesejáveis – como cobras –,
livravam-se de algumas pestes (insetos, ácaros), “limpavam” áreas para
instalar suas vilas e seus cultivos, além de se utilizarem do fogo para
sinalização e em rituais religiosos.
Os
indígenas tinham grande conhecimento dos efeitos que queimadas em
diferentes épocas do ano, ou de diferentes intensidades, ou ainda em
diferentes frequências anuais, podiam ter sobre cada grupo de plantas
ou de animais. Por exemplo, sabiam que, se queimassem o Cerrado todos
os anos, poderiam prejudicar espécies arbóreas, matando os indivíduos
jovens, mas que, ao queimar a cada 2-3 anos, estimulavam a frutificação
das arbóreas e davam tempo aos jovens para que desenvolvessem
mecanismos de defesa contra o fogo (como cortiça grossa); geralmente
queimavam o Cerrado na época seca, logo após o pequizeiro (Caryocar brasiliense)
lançar seus brotos (agosto/setembro), a fim de não danificar sua
floração e a produção de frutos, que se iniciam em outubro, após a
primeiras chuvas de verão. A forma de precisar a época mais adequada
para queimar era por meio de algumas espécies indicadoras (aquelas de
seu interesse), como o pequi, cujo fruto era muito utilizado como
alimento e recurso medicinal. Numa escala temporal mais refinada,
também se guiavam pela formação de nuvens, pelo nível dos rios, ou pelo
comportamento de alguns animais para saber quando melhor aproveitar os
efeitos do fogo. Em geral, queimavam pequenas áreas, ou áreas maiores
num sistema de mosaico, intercalando locais queimados com
não-queimados, que serviam de refúgio à fauna e às espécies de plantas
mais sensíveis ao fogo.
Parte
desse conhecimento foi transmitida aos agricultores e pecuaristas,
porém, ao contrário dos indígenas, seu estilo de vida sedentário não
lhes permitia manter o sistema de queima em mosaico, nem esperar alguns
anos para voltar a queimar o mesmo local, pois necessitavam maximizar,
temporal e espacialmente, os benefícios do fogo. Disso resultou um
aumento na frequência e na extensão das áreas queimadas, ocasionando,
muitas vezes, a degradação do ambiente, em termos de esgotamento das
terras, erosão, exclusão do estrato arbóreo, extermínio de espécies
nativas, infestação por espécies ruderais, dentre outros.
Contudo,
o mau uso do fogo não anula os benefícios que seu bom uso possa trazer.
Nas savanas, o fogo é um instrumento de manejo precioso, que pode levar
a uma grande gama de resultados ecológicos, em médio prazo. Lidando com
os elementos que compõem o regime de uma queimada – frequência,
intensidade e época da queima – se pode aumentar ou diminuir a produção
de folhas e frutos, estimular ou excluir determinadas espécies de
plantas e animais, aumentar ou diminuir os nutrientes disponíveis às
plantas no solo, ralear ou adensar a vegetação arbórea. Assim, o uso
adequado e planejado do fogo pode ser uma estratégia de manejo boa e
barata para a manutenção de pastagens naturais e também de parques
nacionais e reservas biológicas que se destinam à proteção dos
ecossistemas do Cerrado.
A
aversão ao fogo que hoje se vê nos órgãos ambientais e na mídia provém
de informações equivocadas, que confundem conceitos válidos para as
florestas tropicais com o funcionamento e a dinâmica do Cerrado, coisas
completamente distintas. É uma pena, pois uma boa compreensão do papel
do fogo e de seus efeitos nos ecossistemas de Cerrado, adquirida por
meio da combinação de conhecimentos técnico-científicos gerados por
pesquisadores e do conhecimento empírico acumulado pelos habitantes do
Cerrado, possibilitaria a aplicação adequada dessa ferramenta, com bons
resultados para a solução de diversos problemas que hoje atingem os
cerrados naturais e semi-naturais.
Vânia R. Pivello é professora do Departamento de Ecologia, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo
Leia mais:
Pivello, V.R. 2006. “Fire management for biological conservation in the Brazilian Cerrado”. In: Mistry, J. & Berardi, A. (eds.) Savanas and d ry forests - linking p eople with nature. Ashgate, Hants. pp. 129-154.
|
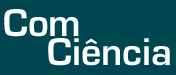


 Dossiê
Dossiê Anteriores
Anteriores Notícias
Notícias HumorComCiência
HumorComCiência Cartas
Cartas Quem Somos
Quem Somos Fale conosco
Fale conosco